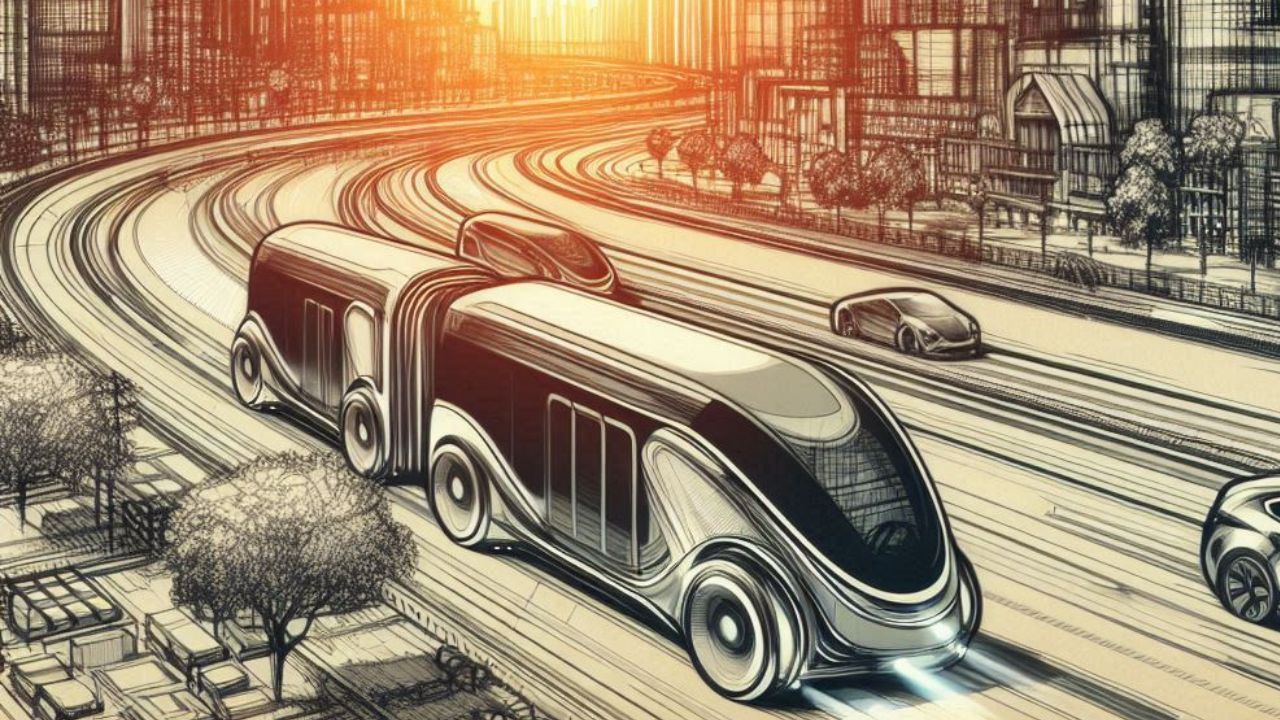
É fato que o transporte autônomo fará parte da realidade da mobilidade nas cidades, zonas rurais e estradas no Brasil e, também, internacionalmente. Agora, convido vocês a uma reflexão não somente sobre o aspecto tecnológico, mas também de uma perigosa narrativa que apresenta as virtudes de eficiência e segurança altamente avançados, além de forte apelo em sustentabilidade, mas que pode ter seus benefícios prejudicados, justamente, pela dependência dos veículos autônomos. Vamos falar sobre a estrutura discursiva de poder, disputas por espaço e o futuro das cidades. Este texto toma como base os argumentos apresentados pelo professor estadunidense Peter Norton, em “Autonorama“, livro publicado em português pela editora Autonomia Literária.
Clique aqui se preferir assistir à coluna Rota da Mobilidade gravada em vídeo.
Pensar sobre mudanças climáticas, no nosso setor de transportes, nos leva inicialmente a um raciocínio que deveria ser óbvio: não basta falar em eletrificação massiva, melhoria eficiente de motores e outras soluções de alta tecnologia se não pararmos para pensar no consumo inconsequente e no desperdício de recursos naturais na mobilidade. Portanto, precisamos dos investimentos necessários para a ampliação e manutenção de sistemas de transporte coletivo, bem como assegurar as condições para uma mobilidade ativa, com cidades desenhadas para favorecer pedestres e ciclistas. Encontrar maneiras de rever o espraiamento das cidades com populações empobrecidas nas periferias e a concentração de renda e oportunidades em centros restritos e exclusivos.
Dito isto, o automóvel é um produto emblemático atrelado a uma série de significados. Quem compra carro busca conforto, segurança, eventualmente status e velocidade. Todavia, a realidade se mostra contrária e, geralmente, o produto não entrega aquilo que promete e quanto mais é vendido menos entrega.
Vamos voltar no tempo, há mais de 85 anos, quando em 1939, a General Motors exibiu na chamada Feira Mundial o Futurama, um modelo 3D de cidade do futuro repleta de vias expressas, em que a circulação por veículos ocorreria de forma harmônica, sem se chocar com os demais usos da cidade. Se tratava de um modelo urbano repleto de contradições, mas que o ilusionismo funcionava. Já na década de 1960, foi apresentado o Futurama 2 pela GM e pela Ford, em que havia a promessa de um futuro radiante nas cidades, o que seria viabilizado pela automação dos veículos, pelo investimento em estradas e pela adoção ao automóvel como item universal. Ou seja, todo este papo de automação e uma mobilidade perfeita já vem de muito tempo atrás e mostram que as promessas recentes de automação e eletrificação dos carros são, na verdade, uma nova versão de Futurama. Porém, que fique bem claro, não haverá mundo num contexto de crise climática sem rever a hegemonia dos carros.
Historicamente, por decisões políticas influenciadas pela capital, as pessoas são privadas de uma mobilidade acessível, prática, saudável e sustentável. Não é segredo para ninguém que a precarização perpetua a miséria e mesmo assim não serve como impulsionador disruptivo ou revolucionário, pois só quem joga esse jogo é o capital. Como a propriedade do carro, normalmente, é um alento, contam ainda com o apoio de grande parte da população dependente de carros.
As origens da dependência do carro, na verdade, estão em estratégias de negócios que distorcem as políticas públicas e restringem as escolhas. Peter Norton argumenta que as montadoras e os consumidores mais ricos tornaram os carros não apenas ferramentas de transportes, mas símbolos de sucesso pessoal e progresso nacional. Essa visão de mobilidade urbana é absolutamente inadequada para as necessidades diárias para as maiorias das pessoas. Mobilidade viável é um direito social e não um bem consumível, inclusive, previsto no Artigo 6º da Constituição Federal do Brasil que diz: “São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados”. Dessa forma, mobilidade é assunto de interesse público e, portanto, equiparar “automóveis” com “progresso”, significa os posicionar como superiores aos serviços públicos de transportes.
Como forma de blindagem de suas promessas, os defensores do Futurama 4 destacam um suposto futuro de veículos autônomos.
Você sabia que o uso das palavras “smart” (que significa “inteligente”, em inglês) e “autônomo” para veículos robóticos surgiu no complexo industrial militar dos EUA? Sabe-se que o Pentágono investiu milhões de dólares neste tipo de veículo para aplicação em guerras. A partir daí empresas passaram a projetar esse tipo de veículo para uso civil.
Portanto, “Autonorama” é tanto sobre carros elétricos quanto sobre automação de veículos e ambos são dependentes do deslumbramento com a alta tecnologia. A pobreza – em todos os seus aspectos – do transporte público é a desculpa predileta para a perseguição de futuros impossíveis em que carros elétricos de alta tecnologia estão por todos os cantos.
Os entusiastas da tecnologia também veem um lugar para carros voadores nas grandes cidades, o que não é impossível, pois já temos visto muito desenvolvimento neste sentido, como nos casos dos projetos de eVTOL (da sigla em inglês que significa “aeronave de decolagem e aterrissagem vertical elétrica”). O que devemos questionar é “veremos uma democracia do acesso à mobilidade aérea e, em caso afirmativo, quando?”
Imagino que você saiba a resposta. Isso reafirma que não devemos confiar nosso destino a mercados ou investidores, porque o que precisamos não é algo futurístico ou caro. Na mobilidade, as tecnologias sociais devem ser priorizadas. Se trata de mais uma evidência de que no chamado Autonorama, os absurdos são escancarados.
Mais um questionamento relevante: O veículo autônomo será avesso ao risco e dirigirá com tanta cautela que frustrará seus ocupantes humanos? Eles podem ter muitas aplicações úteis, mas os VAs onipresentes com uma nova geração de dependência dos carros podem fazer sentido apenas quando caminhar não é mais prático ou seguro. A “revolução da direção autônoma” é inevitável, pois os custos de tecnologia diminuem e o aprendizado de máquina melhora.
A promoção de VAs é apenas uma nova versão de uma técnica de vendas centenária desenvolvida dentro de uma coalizão de grupos de interesse automotivo estadunidenste, antes chamados vagamente de “motordom”. É lobby, mesmo.
Líderes do motordom explicavam uns para os outros, que o objetivo não era satisfazer as demandas de transporte pessoal, mas atendê-las, mantendo-as estrategicamente insatisfeitas, para estimular o consumo. A suficiência dos transportes nunca foi o objetivo. O motordom vendia consumismo de transporte.
Autonorama é o lugar onde a dependência antiquada do carro ganha nova credibilidade por meio do verniz de novidades de alta tecnologia, onde possibilidades simples são negligenciadas não por causa de sua inferioridade, mas por causa de sua simplicidade, e onde promessas implausíveis de perfeição desviam a atenção das possibilidades práticas da melhoria real.
Peter Norton diz: “Não precisamos equipar dois bilhões de carros pessoais com baterias de íon-lítio, LiDAR e outros sensores. Não precisamos encontrar maneiras sustentáveis de gerenciar a duplicação da carga da rede para fornecer energia elétrica suficiente para todos eles. Não precisamos aplicar o aprendizado de máquina para desenvolver algoritmos que possam prever o caminho de um pedestre de forma tão confiável quanto um motorista humano.”
Um exemplo que o autor cita e que trago aqui para vocês é o seguinte: “suponha que os especialistas médicos de hoje pudessem viajar no tempo, levando consigo suprimentos e oferecendo às pessoas, 150 anos atrás, três técnicas médicas modernas. Quais dessas três trariam o melhor benefício médico: sistemas de ressonância magnética, máquinas de diálise e stents? Ou saneamento, vacinas e antissépticos? Estamos sendo solicitados a aceitar benefícios de transporte do futuro que (temos certeza) serão de tirar o fôlego em suas capacidades técnicas.” É o velho ditado do “mantenha o consumidor insatisfeito”, que defende o consumismo de transporte, basicamente o Futurama.
Porém, onde quer que o tráfego reduzisse a velocidade dos veículos, o consequente atraso era, portanto, motivo para a construção de nova capacidade rodoviária. Vender uma visão de direção, que parecesse crível e ao mesmo tempo atraente o suficiente para persuadir as pessoas a aceitar a insatisfação de curto prazo na esperança de contentamento futuro.
Para “manter o consumidor insatisfeito”, o vendedor deverá persuadir o consumidor de que a satisfação final está próxima e que ele a terá para oferecer. Entre as novas promessas é a de que a automação da mobilidade é desejável para a prevenção de acidentes. Todavia, o que os vendedores de VAs precisavam era de uma visão de perfeição em um futuro que estivesse perto o suficiente para atrair o interesse, mas longe, na medida certa, para impedir responsabilidades.
O motordom recruta a autoridade da ciência, como acontece até hoje em diversas áreas, para reputar-lhe credibilidade. A nova tecnologia foi, novamente, a base para alegações de que rodovias de alta tecnologia evitariam colisões e resolveriam congestionamentos. Uma nova onda de promessas extravagantes de que a tecnologia de ponta traria uma utopia automobilística, uma cidade onde a tecnologia tornaria a dependência do carro libertadora, segura e inclusiva.
O espetáculo tecnofuturista se uniu à engenharia, à política de grupos de interesse e ao marketing corporativo para vender a cidade onde se dirige para todo lugar com segurança e rapidez. A partir de 2010, os vendedores da indústria renovaram suas promessas, mais uma vez, inaugurando o Futurama 4, ou como Peter Norton rotula: “Autonorama”, em que o advento da dependência eficiente, segura e sustentável do carro, será proporcionado por VAs.
Já se provaram errados os argumentos de que rodovias inteligentes e sem tarifação de congestionamento diminuiriam os engarrafamentos e melhorariam a segurança. Fazer o impossível parecer possível é uma estratégia de vendas muito bem difundida por diversos setores.
O autor recorda que a Agência de Projetos de Pesquisa Avançados de Defesa (DARPA, na sigla em inglês), vinculado ao Departamento de Defesa dos Estados Unidos, investiu em projetos de veículos que poderiam dirigir sozinho em zonas de guerra. Posteriormente, lançou competições abertas de protótipos de veículos sem motorista. No Grand Challenge 2005, os veículos de melhor desempenho foram equipados com matrizes que detectam seus ambientes com lasers por meio de aparelhos LiDAR, que funcionam como radares que usam feixes de luz laser para gerar um mapa de alta resolução do ambiente imediato.
Norton argumenta que a inovação constante é necessária no capitalismo, porque suprir as demandas existentes apenas diminuía a demanda. Portanto, era preciso direcionar o interesse e as necessidades para os carros de ultima geração. O que muda no Futurama 4 é que os veículos totalmente autônomos, supostamente, tornam a utopia possível onde antes era impossível. Mas, o Autonorama também está falhando, pois, as defesas da dependência do carro apenas estavam e continuam adicionando verniz futurista ao status quo. Considera-se a dependência do carro um fato consumado, não uma opção. As estratégias para aliviar o congestionamento são, na verdade, apenas um convite a dirigir mais, conforme vivenciamos na maioria das nossas cidades, inclusive, aqui, em São Paulo.
É preciso prestar atenção em outros aspectos, porque se por um lado a automação reduz alguns tipos de risco, por outro ela introduz outros. Um erro elementar de aritimética apontado pelo autor é que: “subtraem todas as deficiências causadoras de acidentes às quais os motoristas humanos são suscetíveis, mas falham em somar todas aquelas às quais seus substitutos robóticos são suscetíveis”.
Quanto mais bem-sucedido desenvolverem o VA que realmente alivie o congestionamento, mais o número total de veículos crescerá. Tenderá a anular quaisquer ganhos de sustentabilidade que os VAs possam oferecer.
A posse de um carro é considerada “libertadora” apenas porque o ambiente é tão hostil que grande parte da população não pode atender às necessidades diárias sem um. Portanto, se trata de um recurso privado para uma incapacidade imposta pelo Estado. Dessa forma, ter um carro torna-se uma obrigação, quer o proprietário possa pagar ou não. É como se fosse o preço da cidadania e o pré-requisito para um emprego. Não ter carro pode inviabilizar a empregabilidade, mas comprar, abastecer, fazer seguro, estacionar, pagar imposto e fazer as devidas manutenções também pode impedir a pessoa de juntar quaisquer economias. Na prática, o sistema se especializou em converter necessidades sociais reais em oportunidades para comercializar produtos que não poderiam realmente resolver problemas.
Independentemente das promessas feitas de que o mercado já contaria com carros autônomos confiáveis, como feitas pela Nissan ou a Tesla, por exemplo, muitos especialistas não veem quase nenhuma chance de que os VAs sejam comuns nas próximas décadas. Sim, eles faram parte da mobilidade nas cidades, mas longe de uma hegemonia por motivos óbvios de renovação da frota circulante, capacidade industrial, custo de aquisição, entre outros fatores.
Os VAs são, mais do que qualquer outra coisa, uma tentativa de perpetuar a dependência do carro quando a própria dependência do carro é o problema. Até agora não há um caminho claro em que um VA custe menos que o dobro de um carro convencional em nenhum lugar do mundo. Em suma, os VAs ameaçam perpetuar e exacerbar a dependência do carro e todos os seus custos associados em termos de sustentabilidade, acessibilidade, saúde pública, equidade social e eficiência espacial.
A própria sensibilidade dos sensores dos VAs significa que o veículo detecta muito mais do que aquilo em relação ao que se pode ou deve responder. Os VAs devem ser programados para arriscar. Em um mundo real confuso, os VAs não podem ter 100% de confiança, nem podem errar sempre por excesso de cautela. Os recursos de segurança salvam vidas melhor quando os efeitos da compreensão de risco são levados a sério e mitigados. Todo esforço de segurança deve começar com a pergunta: segurança para quem? – mesmo os melhores sistemas de segurança nos carros são tendenciosos em favor dos ocupantes do veículo, em detrimento de outros fora dos veículos, o que não necessariamente é um julgamento de valor, mas um fato.
Dirigir não seria particularmente perigoso se os carros viajassem no ritmo de um pedestre caminhando, por exemplo. Esse fato explica por que o primeiro recurso de segurança automática foi o regulador de velocidade, que limita a velocidade máxima de um veículo a uma determinada configuração. A mensagem implícita da experiência predominante em segurança no trânsito é que, se as pessoas que cruzam quatro faixas de tráfego movimentado ou andam de bike em um espaço estreito devem comprar um carro; se desejam segurança para seus filhos, devem leva-los de carro a todos os destinos.
Outro aspecto relevante levantado por especialistas em segurança rodoviária é que quanto menos os motoristas tinham que fazer, menos capazes eram de responder prontamente a um perigo inesperado. As pessoas que projetam sistemas de alta tecnologia que dependem da vigilância humana contínua ainda não lhes deram o devido valor. A atenção é muito mais eficiente quando há coisas para prestar atenção e quando sua atenção é constantemente necessária. Há casos de veículos semiautônomos em que há um motorista de plantão apenas para tomadas de decisões específicas. Dessa forma, quando as falhas previsíveis ocorrem em qualquer tipo de veículos, as empresas estão dispostas a culpar o “erro humano” e os reguladores às vezes concordam.
Os propagandistas prometem que serão mais seguros porque seguirão escrupulosamente todas as regras da estrada e cumprirão rigorosamente os limites de velocidade. Os programas de aprendizado de máquina podem aprender a ajudar os VAs a distinguir uma sacola plástica de um obstáculo mais sério, eles podem aprender onde, quando e quanto um limite de velocidade pode ser excedido impunimente. O aprendizado de máquina pode permitir que os VAs otimizem a quebra de regras da seguinte maneira: programas, aplicando uma análise de custo-benefício melhor do que qualquer motorista humano, podem aprender o quanto podem exceder um limite de velocidade e quais violações de regras vale a pena cometer. Obviamente, um VA confiável que custa muito mais que um carro convencional, mas que também é muito mais lento, teria um mercado limitado.
As falhas acontecem com o tempo e nem precisamos entrar naquele papo de “obsolescência programada”. Por exemplo, um hardware envelhecido, exposto a variações de calor, frio e umidade, pode apresentar erros. Outro fator extremamente complexo é combinar uma mobilidade entre VAs e carros convencionais. Neste caso, talvez as montadoras possam começar instalando sistemas de comunicação veículo a veículo em todos os carros, incluindo modelos convencionais, para que eles interajam melhor.
Uma provocação de Peter Norton é que, quando pensamos em questões fundamentais de política e gestão de tráfego, zerar o número de acidentes é mesmo o objetivo certo? Veja bem, os carros são uma questão de saúde pública tanto por causa dos ferimentos e mortes que os acidentes causam, quanto porque são um fator primário na vida sedentária, sendo um dos principais contribuintes para doenças cardiovasculares, obesidade e diabetes. Nos lugares em que os padrões das ruas são otimizados para dirigir, eles impedem a caminhada. As emissões dos carros também provocam transtornos respiratórios e distribuem os riscos à saúde de forma desigual. A vida sedentária contribui muito mais para a morte prematura.
Por outro lado, passageiros bem instalados e que podem usar seu tempo de viagem para trabalhar, se divertir ou dormir, podem estar dispostos a viajar muito mais longe. As empresas de tecnologia buscariam maneiras de manter os passageiros nos carros por mais tempo utilizando a mesma lógica comercial que encontraram maneiras de manter as pessoas em seus telefones celulares por mais tempo, por exemplo.
Os ganhos de eficiência podem ter efeitos surpreendentes. Segundo o autor de “Autonorama”, “À medida que a eficiência de um dispositivo melhora, ele fará melhor uso do tempo, energia ou outros recursos necessários. Ao mesmo tempo, no entanto, os dispositivos se tornam mais vantajosos de usar e, portanto, são mais usados. Uma conexão da internet mais rápida economiza seu tempo sempre que você fica online, mas também torna o acesso online mais gratificante e menos frustrante, então é provável que você passe mais tempo online, não menos”.
Entre os argumentos recorrentes pelos defensores da tecnologia é que, em áreas superlotadas ou com baixa capacidade de estacionamento, os VAs poderiam deixar seu usuário em determinado endereço e sairia à procura de uma vaga mais próxima ou ficaria circulando na região até o retorno da pessoa, similar a uma irritante experiência que já conhecemos nas longas filas de carros nas escolas, justamente porque os alunos não estacionam, são apenas transportados em segurança.
Por isso, segundo Peter Norton, qualquer coisa menos do que a autonomia total da mobilidade seria de pouca utilidade. Em outros aspectos, no entanto, os VAs parecem ser muito mais propensos a piorar as desigualdades de transporte. Os VAs compartilhados (alugados) podem ser um meio para alguns renunciarem à propriedade do carro, mas os VAs são tão caros que até mesmo andar em um terá que ser caro. Os custos de equipamentos essenciais como o LiDAR e as baterias estão caindo, mas de pontos de partida tão altos que o custo de uma viagem em um pequeno veículo sem motorista terá que estar mais próximo da tarifa do táxi do que da tarifa do ônibus. O autor avalia que a economia de longo prazo parece melhor para ônibus autônomos e quanto maior, melhor. Todavia, os ônibus convencionais ainda estão muito a frente e também podem atender a populações que não podem dirigir.
Ao acelerar as viagens para os motoristas, os carros convencionais promoveram uma difusão geográfica que prejudicou o serviço de ônibus e muitas vezes tornou impraticável caminhar ou andar de bicicleta. Essas tendências tornaram a posse de automóveis menos uma conveniência do que uma necessidade. Norton acredita que os VAs aprofundariam as desigualdades sociais no transporte ainda mais.
Como disse no início, o poder da narrativa é determinante, considerando que o sucesso comercial não começa com um bom produto, mas sim com a habilidade de contar uma história atraente na qual o produto é o protagonista.
Quando os pesquisadores são contratados e colocados a serviço da agenda de um grupo de interesse, sua mensagem pode ter pouco a ver com a ciência, mas é capaz de manter a autoridade da ciência de um jeito ou de outro – pelo menos por um tempo.
A busca pelo lucro induz as empresas a oferecer a seus clientes um bom produto. Contudo, se os consumidores pagantes de uma empresa de mobilidade são outras empresas que negociam dados e o produto são os dados dos consumidores, então a coleta de dados, e não a mobilidade, vem em primeiro lugar.
O século XX mostrou de forma cristalina que a adaptação das infraestruturas para viabilizar um transporte de alto custo negligencia e degrada a mobilidade acessível. Isso porque o consumismo de transporte não se importa em satisfazer as necessidades de mobilidade dos consumidores, promovendo apenas o consumo e “mantendo o consumidor insatisfeito”.
Peter Norton mostra que a coleta de dados digitais pode distorcer o cenário da mobilidade ainda mais, colocando o transporte como um meio de coletar dados monetizáveis. Um fabricante ou operador de frota de VAs pode se autodenominar uma “empresa de mobilidade”, sobretudo como estratégia publicitária. Porém, a busca pela coleta máxima de dados monetizáveis poderá degradar a mobilidade real tanto para seus clientes quanto para outras pessoas.
Imaginar como seria o uso compulsivo de VAs é um exercício um tanto complexo. Mas, segundo o autor, os veículos autônomos são menos um meio de melhorar a mobilidade do que de superar a maior restrição na coleta de dados pessoais além do sono: as demandas de atenção ao dirigir. Por exemplo, quanto filmes, séries, jogos de realidade virtual, entre outros tipos de conteúdo poderiam ser vendidos se os motoristas pudessem desfrutá-los durante seus trajetos em veículos autônomos? Para se ter uma ideia do potencial deste mercado, estima-se que a arena de monetização de dados automotivos poderá desenvolver um mercado mundial de até US$ 450 a US$ 750 bilhões até 2030, de acordo com estudo apresentado no livro.
Em termos de entretenimento, há potencial para o desenvolvimento de jogos interativos entre motoristas, assim como os games multijogador que já são extremamente populares em todo o planeta. Dessa forma, o que é divertido para os motoristas pode ser bastante lucrativo para os jogadores que controlam o espaço social dos dados dos carros.
Os Futuramas não venderam veículos somente, mas também o ideal de uma direção rápida, segura e sem congestionamentos. Contudo, as impressões de credibilidade e de novidade precisam ser recicladas de tempos em tempos com novas promessas e a ampliação do vocabulário é um meio de evocar novidades, pois sabemos que um novo nome pode dar a uma ideia antiga uma aparência de última geração, como os termos “soluções”, “revolucionário”, “compartilhamento”, “mobilidade”, entre outros.
Devemos considerar a mobilidade em toda a sua variedade ao invés de nos beneficiarmos apenas com o sentido amplo e humano da palavra. Querem transporte, mas sem suas associações pouco lisonjeiras, então os donos da narrativa do momento os renomearam. Mudaram cultura automobilística para cultura da mobilidade e o fato é que os automóveis permanecerão onipresentes e predominantes, fomentando a sua dependência. Norton alerta que “aqueles que não querem ser enganados devem insistir para que usemos os termos com cuidado”.
É importante salientar que, embora os VAs possam ser componentes úteis de futuros sistemas de mobilidade, não são em si as soluções que seus promotores afirmam que são. A dependência de carros de alta tecnologia ainda é dependência de carros e o problema é justamente este. Portanto, não se permita ser enganado.
Para o autor, o esforço do século XX para reconstruir as cidades em torno dos automóveis fracassou porque, assim como os baldes, os carros são ferramentas úteis que não atendem bem a todas as necessidades. Os defensores da automação dos meios de transporte prometem tornar a dependência do carro mais segura, mais sustentável e mais eficiente especialmente. No entanto, a dependência do carro não é uma necessidade social. Longe disso. Pelo menos nas cidades, quase todas as alternativas para dirigir ou andar de carro são mais simples e mais baratas de implementar, mais seguras, mais sustentáveis, mais eficientes espacialmente e mais socialmente equitativas.
É de saber público que onde a caminhada, o ciclismo e o trânsito são bem acomodados e priorizados e podem atender às necessidades diárias práticas, as pessoas caminham, pedalam e usam o transporte público. A dependência do carro não é um fato consumado, assim como o vício em cigarros. Aos fumantes a única alternativa é parar de fumar, enquanto não precisamos abandonar os carros.
Bogotá, capital da Colômbia, teve um prefeito chamado Enrique Peñalosa, que governou a cidade entre 1998 a 2001, e disse o seguinte: “Uma cidade avançada não é aquela que os pobres podem se locomover de carro, mas aquela em que até os ricos usam transporte público.”
Portanto, os VAs não são a solução definitiva para os problemas de mobilidade e a dependência do carro é o maior triunfo do consumismo. Norton diz que assim como os cigarros com filtro e baixo teor de alcatrão foram um desvio perigoso que estendeu o tabagismo por décadas, os VAs são uma distração perigosa dos meios que já temos diante de nós para garantir uma mobilidade urbana mais sustentável, mais econômica, mais saudável e mais equitativa.
Sustentabilidade, saúde e equidade social exigem inovação. Mas, por 80 anos, esse “tecnofuturismo” tem sido uma distração perigosa e interpreta erroneamente os humanos como complicações em vez de ativos. A verdadeira inovação da mobilidade urbana não exigirá veículos autônomos, mas pessoas autônomas: viajantes com escolhas. Precisa aproveitar a inteligência dos humanos no sistema de mobilidade em vez de se esforçar para engendrar isso.
Devemos entender que uma vez que os dados são colocados para trabalhar para qualquer finalidade social, eles se tornam políticos. A despolitização baseada em dados pode significar marginalização ou exclusão e, portanto, a resposta é inclusão deliberada das pessoas em uma mobilidade responsável e altamente eficaz.
Vale reforçar que isto não é inventar a roda. Há o exemplo da governança digital de Taiwan, que em vez de relegar os cidadãos a objetos passivos e involuntários de coleta de dados, o governo virou a mesa e convidou os cidadãos e demais interessados a contar o que eles preferem, ao que se opõem e o que propõem.
No Autonorama, a tecnologia escolhe por nós. Os veículos autônomos estão chegando e mais cedo do que você pensa. Quando o Autonorama admite que existem de fato escolhas, ele as enquadra para nós como um paradoxo, já que a seleção é limitada e não totalmente livre. Eles nos apresentam isso com perfeição, como a solução que finalmente nos libertará de nossas aflições. O Autonorama nos pede para limitar nossas escolhas, seja a nenhuma – goste ou não. Onde ouvimos que não temos escolha, devemos insistir na escolha. Nossas práticas são respostas a um status quo que não nos dá boas escolhas, analisa Peter Norton. Aliás, encontramos pela frente inúmeras outras situações parecidas em diversos setores.
Ao tratar o tema de emergência climática, encontra-se um benefício público para todos nas tendências de reduzir o uso de automóveis privados e favorecer o de modais mais eficientes, como sistemas de transporte público por diferentes modais. Dessa forma, a solução é permitir que as pessoas gerem dados que reflitam suas preferências. As pessoas não devem ficar em uma posição passiva esperando que a tecnologia as livre de seus infortúnios. Então, fazemos melhor quando adaptamos os sistemas tecnológicos aos nossos propósitos. Se pudermos concordar que nossos propósitos de mobilidade incluem, em proporções discutíveis, sustentabilidade, acessibilidade, eficiência, inclusão, equidade e saúde, podemos finalmente tirar o melhor proveito do que a tecnologia tem a nos oferecer.
Vimos que, de acordo com Peter Norton, os ciclos com grandes promessas voltadas à mobilidade se ronovam, em média, a cada 25 anos, quando essas visões ganham uma nova tecnologia para auferir mais credibilidade junto aos investidores, corporações, poderes públicos e sociedade, visando à implementação, ao avanço e à comercialização dos veículos automatizados ou autônomos. Se trata de um cenário que se desenvolve, sobretudo, a partir da imprescindível e intensa coleta de dados de cidadãos, cidades e países realizadas pelas corporações de tecnologia. Há uma blindagem contra as críticas, especialmente, quando se recruta a autoridade científica por meio de seus intensos investimentos em Pesquisa & Desenvolvimento, desqualificando qualquer resposta contrária a suas estratégias comerciais por mais sensatas que sejam. Isto é capitalismo e há momentos em que precisamos bater de frente. Fica claro que é preciso que alguém precisa interpretar os dados e que os objetivos devem ser escolhidos primeiros e pelas pessoas.
